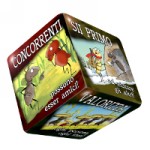Economia da alegria / 3 – A cultura jubilar atravessa a Bíblia em profundidade, como nos dois episódios cruciais do livro de Neemias
por Luigino Bruni
Original italiano publicado em Avvenire em 08/04/2025
A cultura jubilar não deve ser procurada apenas nos textos que regulam expressamente o Jubileu ou o ano sabático. De facto, existem, em diversos livros da Bíblia, passagens que contêm dimensões determinantes para compreender o humanismo do jubileu. Depois da análise do livro de Jeremias, vamos, agora, olhar com mais atenção um capítulo do livro de Neemias, um alto funcionário (copeiro) da corte do rei persa Artaxerxes (465-424 a.C.). Neemias era um hebreu leigo, nascido no exílio, que, como Ester, chegou aos mais altos cargos da corte e, depois, tornou-se governador da Judeia sob a ocupação persa. Neemias, enquanto se encontrava em Susa, veio a saber da condição miserável dos judeus de Jerusalém: “Os sobreviventes do cativeiro estão lá na Província, vivem em grande miséria e numa situação humilhante. As muralhas de Jerusalém estão ainda em ruínas” (Ne 1, 3). Neemias sentiu um chamamento (cap. 2), pediu ao rei para ser enviado a Jerusalém para a reconstruir. De facto, quando parte dos exilados de Babilónia regressou à pátria, a convivência com os hebreus que tinham ficado em Jerusalém não foi fácil. Havia evidentes questões económicas e patrimoniais – as terras dos deportados tinham passado, em parte, para as famílias que ficaram, e, agora, eram reclamadas –; mas havia também questões teológicas e religiosas: quem tinha escapado à deportação tendia a tratar os deportados como culpados que tinham merecido o exílio (atitudes muito comuns em muitas comunidades).
Enquanto Neemias começa a reconstruir as muralhas juntamente com a dignidade do seu povo de Jerusalém, o seu livro relata-nos um episódio muito importante: “Aconteceu que os homens do povo e as esposas fizeram ouvir um grande clamor contra os seus irmãos judeus. Alguns diziam: «Os nossos filhos, as nossas filhas e nós somos numerosos; precisamos de trigo, para que possamos comer e viver»”. Neemias ficou “muito indignado” com o que ouviu. Depois, dirigiu-se aos chefes e aos magistrados: “Porque cobrais juros dos nossos irmãos?”. Convocou o seu povo e disse-lhes: “O que vós estais a fazer não está certo!... Pois bem, perdoemos o que nos devem. Devolvei-lhes, desde já, os seus campos, as suas vinhas, as suas oliveiras e as suas casas; e restituí-lhes a percentagem da prata, do trigo”. Eles responderam: “Devolveremos tudo e nada mais lhes pediremos”. Então, “toda a assembleia respondeu: «Ámen»; e louvaram o Senhor. E o povo cumpriu a promessa” (5, 1-13). Um maravilhoso ámen económico e financeiro, todo laical e todo espiritual.
Também é muito importante o grito das ‘esposas’ contra os homens da comunidade. Palavras antigas e fortes que nos deveriam fazer refletir muito sobre uma dolorosa constante da história humana. É a mansidão infinita e a paciência heroica das esposas e das mulheres que, durante milénios, sofreram violência pelas guerras desencadeadas pelos homens, e continuam a sofrê-las. Um profundo e vasto sofrimento todo feminino, impotente e inocente, que atravessa os lugares e os tempos, todas as culturas. Um colossal património ético da humanidade, uma dor coletiva milenar, que mereceria, pelo menos, o Nobel da paz, atribuído às mulheres de ontem e de hoje que não só cuidaram da paz e combateram, nas suas casas e nas praças, todas as guerras, mas também foram e são as primeiras a sofrer nos seus corpos e na sua alma as devastações e as atrocidades de todas as guerras. Os homens combatiam e combatem as guerras nos campos de batalha e nas máquinas de morte; as mulheres combatem na sua carne e na dos seus filhos e maridos: um sofrimento duplo, multiplicado, infinito. “Tenho sempre presente o que relatou Teresa Mattei, a mais nova das vinte e uma constituintes: aquando da votação da Constituição, mais especificamente o artigo 11, relativo ao repúdio da guerra, as mulheres, qualquer que fosse a sua filiação partidária, deram as mãos. Ainda hoje me comovo quando leio esta recordação” (Lucia Rossi, Secretária do SPI-CGIL [Ndt - Sindicato dos Pensionistas Italianos]). Uma imagem maravilhosa da grande e tenaz aliança das mulheres pela paz, para expressar, com a linguagem muda do corpo e das mãos, o seu repúdio absoluto da guerra. Aquela esplêndida solidariedade entre mulheres que ainda sobrevive, com dificuldade, amadureceu ao longo dos séculos, durante as guerras, quando aprenderam a conservar a vida e a esperança num mundo de homens que matavam mil vezes com as armas, com os gestos e com as palavras erradas – o primeiro poder é sempre o da linguagem com que se escrevem todos os discursos e se controlam todas as palavras. Este lamento e protagonismo das mulheres revela-nos uma outra dimensão fundadora da cultura jubilar que esquecemos, durante a história da cristandade, relegando as mulheres ao papel de figurantes nos cenários das igrejas, nos cânticos, nos ‘améns’ litúrgicos, nas filas das procissões.
Este ato de Neemias e das mulheres é, portanto, um dos episódios mais bonitos da Bíblia que nos diz, entre outras coisas, que a grande dor de setenta anos de exílio babilónico não fora suficiente para fazer com que a lei mosaica sobre a proibição de empréstimo com juros se tornasse uma cultura difundida entre o povo – como hoje não é suficiente incluir alguma mulher na política para mudar a cultura da guerra. Os pecados económicos continuavam também depois do regresso à pátria (538 a.C.). Mas, do grande trauma do exílio ao longo dos rios de Babilónia, o povo tinha aprendido a importância essencial da cultura sabática e também do perdão das dívidas e da libertação dos escravos. A Bíblia também é a guarda secreta e discreta de poucos gestos diferentes – por vezes, apenas de um – para que nós os possamos transformar em semente.
O sentido pleno deste grande episódio só se abre se o lermos juntamente com o capítulo oito do mesmo livro de Neemias, num dos trechos mais conhecidos e importantes da Bíblia, que tem como protagonista o sacerdote Esdras. É um momento crucial da refundação religiosa e comunitária do povo, de uma rara força lírica. Ei-lo: “Então todo o povo se reuniu, como um só homem, na praça que fica diante da porta das Águas e pediu a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da Lei de Moisés… O sacerdote Esdras apresentou, pois, a Lei diante da assembleia de homens e mulheres e de todos quantos eram capazes de a compreender… Quando o escriba abriu o livro, todo o povo se levantou. Então, Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, levantando as mãos: «Ámen! Ámen!»… Pois todo o povo chorava ao ouvir as palavras da Lei” (8, 1-9). Outros ámen, lindíssimos – que bom seria poder repetir um destes ‘ámen’ como a nossa última palavra sobre esta terra!
Este relato não é apenas um ponto de origem (talvez o ponto) da tradição do uso litúrgico e comunitário da Escritura; é também o dom da palavra, da Torá, a todo o povo – a leitura durou muitas horas e todos estavam de pé. Não mais o monopólio dos escribas e dos sacerdotes; aqui a palavra torna-se elemento essencial de um novo pacto social, de uma ressurreição coletiva – a palavra povo é repetida doze vezes. E o exílio tinha terminado de verdade. Existiram outros momentos, na história de Israel, de transmissão da palavra. Mas a Bíblia quis dar-nos este momento diferente, um ato solene apresentado com a mesma força de um testamento, para marcar o início de um tempo novo, que pode ser o nosso tempo.
Há também um pormenor importante: aquela assembleia do povo desenrola-se ‘na praça, diante da porta das Águas’. Este acontecimento litúrgico e espiritual determinante não se realiza, portanto, no templo, a dizer-nos que a Palavra tem prioridade sobre o templo – recorde-se que, em Jerusalém, o templo nunca tinha deixado de funcionar. Então, neste trecho, encontramos uma fundação da verdadeira laicidade bíblica: a palavra pode ser anunciada, talvez deva ser anunciada na praça, nas ruas da cidade onde, depois, continua a caminhar em ‘procissão’ – uma procissão civil que lembra as procissões que se faziam na inauguração dos primeiros Montepios, no século XV. Desde esse dia sabemos que, para proclamar a palavra de Deus, não há lugar mais litúrgico do que uma rua, uma praça, um mercado. Com aquela praça diante da porta da Águas, regressa a primeira pequena tenda que, nas encostas do Sinai, cobria a Arca da Aliança, que continha as tábuas da Torá. Aquela tenda tornou-se, um dia, o grande templo de Salomão mas, no povo, nunca se tinha apagado a saudade daquela primeira tenda móvel, da sua pobreza e liberdade, quando ‘havia apenas uma voz’. E está sempre aqui a raiz da profecia com que termina a Bíblia: na nova Jerusalém, “não se vê nenhum templo” (Ap 21, 22) e ‘a árvore da vida’ encontrava-se “no meio da praça da cidade” (22, 2).
E voltamos à cultura jubilar. A nova fundação comunitária litúrgica, a laicidade da praça que superou a sacralidade do templo, foi preparada pelo pacto económico-social do perdão das dívidas, gerado pelo grito das mulheres do capítulo cinco. Neemias, primeiro, restabeleceu a comunhão e a justiça na ordem das relações sociais, dos bens e das dívidas, e só depois refundou a liturgia e deu a palavra. Uma mensagem de um valor imenso. Neemias realizou a assembleia na praça porque aquela assembleia litúrgica já era assembleia política e social.
As reformas religiosas, litúrgicas, ‘espirituais’ que não sejam precedidas de reformas económicas, financeiras e sociais, não são apenas inúteis: são extremamente prejudiciais porque acabam por dar um crisma sacral às injustiças, às relações sociais erradas e aos abusos.
Também este nosso jubileu não passará em vão se, antes das travessias das portas santas e das indulgências plenárias, formos capazes de novos pactos sociais, de anular qualquer dívida, de libertar, pelo menos, um escravo, de escutar o grito das mulheres e dos pobres. Mas, hoje, não parece que estes atos jubilares estejam na ordem do dia das nossas comunidades.